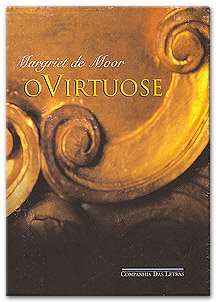“A louca da casa”: o humor e a reflexão de Rosa Montero
 A louca da casa
A louca da casaRosa Montero
Ediouro
Deve haver alguma coisa muito especial no ar da Espanha dos últimos anos e vez em quando parece que é em Madri que melhor se consegue juntar coisas que parecem inconciliáveis como o amargor e o humor, o passional grotesco e a poesia, a leveza e a profundidade (claro que falo da Madri de Pedro Almodóvar, que parece referência para tudo que a Espanha oferece de mais pertinente em arte, para quem não mora lá e só pode imaginar).
De modo que recebi de uma amiga o livro de Rosa Montero, “A louca da casa” (Ediouro, 196 páginas), já pensando um pouco nisso, mas também precavido, porque na capa há uma menina de rosa destacando-se numa família em fotografia em preto e branco, e quase se vai inevitavelmente pensar que se trata de um livro autobiográfico em que a escritora decidiu falar de sua diferença, de sua formação dramática como menina sensível em meio a uma família conservadora (sabemos como os espanhóis podem sê-lo; há todo um imaginário da Espanha reacionária e cruel ligada ao cinema de Saura, ao teatro de Lorca, que já nos preparou para isso). Mas, daí, saltando para a contracapa, não que é descobrimos que “a louca da casa” não é aquela menina exatamente, mas vem da frase de Santa Teresa de Jesus, referindo-se à imaginação? Ali, há uma referência elogiosa ao livro feita por Vargas Llosa e um texto que diz, entre outras coisas, que esse é um livro “indefinível”.
É mesmo, mas é também um deleite, talvez porque, aos poucos, a leitura nos vai dando um mundo de indefinições que nos diz muito respeito. Porque é um livro sobre esse ser ansioso, presa da imaginação, que somos nós, escritores, e é um livro em que uma escritora decide falar a esse respeito – escrita, vida, outros escritores – de um modo tal que pode ser lido com proveito por todo mundo. Sem o terror da erudição intimidante e aquela masturbação acadêmica que torna a metalinguagem uma chatice implacável, repleta de citações e notas de rodapé. Não: Rosa Montero faz do ensaio um precioso ingrediente do prazer e da paixão da narrativa, sem pôr ninguém para dormir pela presunção.
Um mundo bem conhecido
Quem quer que goste de Literatura e goste de ler sobre escritores vai encontrar em Rosa Montero ecos do que já soube em algum outro lugar, outras leituras, mas tudo reunido de um jeito cativante, no corpo de sua narrativa. Vamos conhecer coisas já bem conhecidas, frases, conceitos, recuperadas de modo até mesmo meio didático. É um pouco o que parece a falha inicial do projeto, rendendo-se à superfície e à explicação e deixando o leitor à vontade com o já-sabido, mas, aos poucos, entende-se que essa é a astúcia da narradora para nos levar para dentro de seu mundo ficcional.
Quem é que, escritor informado, um dia não soube, por exemplo, da trágica história de Truman Capote, que, depois da proeza do romance-reportagem “A sangue frio”, tornou-se um mundano vaidoso e totalmente possuído pelo sucesso que se deixou atrair mais pelo mundo das socialites, do jet-set, da badalação, que pela tarefa de escrever de fato? Talvez poucos se lembrem de Capote. Para os mais ligados em cinefilia, é só dizer que é dele a história de Holy Golightly em “Bonequinha de luxo” e é dele o soberbo roteiro de “Os inocentes”, dirigido por Jack Clayton, o melhor filme de terror já feito. Capote, homossexual, acabou sua carreira depressa demais, pela atração esterilizante do mundanismo, e aí Rosa Montero conta a sua história para exemplificar como o sucesso pode ser letal para o escritor verdadeiro, como as tentações que oferece são corruptoras. Só por esse trecho o livro já mereceria ser lido – deixaria de cabelo em pé os escritores desesperados pela fama reles e passageira de mídia que estão por aí, produzindo livros mais para fazer barulho que para serem lidos propriamente . Lembramos de Capote, tristemente, menos pelo talento enorme que foi, mas como aquele cara que Gore Vidal, muito abaixo dele em qualidade literária, alfinetou o tempo todo, como uma comadre “gay” perversa. Mas há muita gente citada – Carson McCullers (preciosa escritora norte-americana injustamente esquecida), Kipling, Goethe, Kafka, enfim, um elenco para lá de ilustre.
Às inserções de comentários de escritores sobre o escrever, sobre os editores (“Os escritores que aos olhos dos editores não passam de um monte de esfarrapados, deviam lidar com eles como se faz com porcos tinhosos” disse o para nós obscuro Robert Walser, que naturalmente, morreu quase todo inédito e louco) e sobre o resto que conhecemos bem, Rosa Montero junta algumas histórias pessoais que chegam a parecer irrelevantes, mas, aos poucos servem para nada menos que dar todo o sentido ao livro.
Caso de sua relação romântica com um ator de cinema americano de passagem por Madri. Ela a conta nada menos que três vezes, cada uma de um jeito, e sempre com a mesma verossimilhança que deriva do talento de um ficcionista, essa “verossimilhança” que costuma deixar os leitores crédulos dispostos a acreditar na inteira verdade que o impostor profissional lhe relata e é obra do talento, não da fidelidade à experiência, de resto plástica e indefinida o bastante para permitir todos os vôos da imaginação.
Rosa Montero é uma revelação para nós. Ao que me consta, “A louca da casa” é seu primeiro livro publicado no Brasil, embora ela tenha atrás de si toda uma carreira de jornalista e escritora premiada na Espanha. Vale conhecê-la. Até porque um livro como “A louca da casa” é mais revelador que duzentas mil teses cheias de jargões e redundâncias insuportáveis e, acima de tudo, entretém inteligentemente. E precisamos – nós, os submetidos a tantos escritores chatos e posudos - de entretenimento o mais inteligente e refinado possível.
Chico Lopes