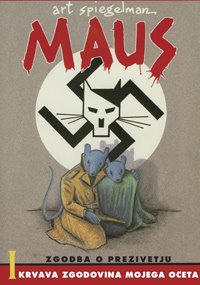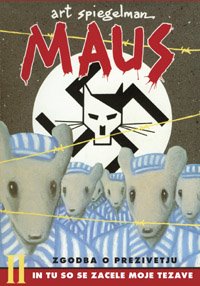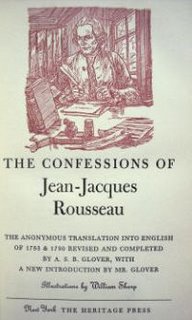James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones.
Ela passa. Não é, no entanto, um passar comum. Para que passasse por diante da câmera, para que fosse vista por um certo detetive, foi rigorosamente vestida e preparada por um homem muito esperto e maldoso, que precisava enganar alguém. Ela desliza, se exibe, submete-se ao exame do personagem. E ao nosso. Fisgando o homem para quem desfila, fisgou-nos. Ela é Madeleine, o impostor é Galvin Elster e o detetive, Scott.
Fomos fisgados por Hitchcock, o verdadeiro manipulador, o artífice dessa cena que não se pode esquecer. Que Scott, a seguir, já apareça no encalço dessa mulher pelas ruas de San Francisco, nos parece a coisa mais natural do mundo. Ele tinha conversado com Elster, que expusera o triste caso da esposa e de suas estranhas perambulações pela cidade, ele não quisera aceitar a tarefa de segui-la e descobrir suas intenções. Elster lhe pedira que fosse vê-la no restaurante Ernie´s e, claro – era preciso apenas que a visse para que a amasse. Nada de dizer “aceito a missão”. Para quê? Está tudo na imagem. Hitchcock é o rei das elipses significativas.
Madeleine Elster é uma mulher única, fabulosa, frágil, a um passo do Além, porque se julga possuída pelo espírito de uma antepassada morta e, em seu transe, está mais para o lado dos mortos que dos vivos. Tudo mistificação, como se verá depois, mas seria muito grosseiro decretar que é apenas um blefe que o diretor desmascarará lá pelo meio do filme; não: trata-se de uma dessas mistificações onde uma idéia transcendente se entronca com a realidade, a ponto de Morte e Vida, Terra e Céu, Aquém e Além, perderem suas fronteiras definidas, se intercambiarem e deixarem a nós, espectadores, em dúvida quanto à consistência do real.
Isso é Cinema, feitiçaria superior, onirismo privilegiado (visto que a consciência o acompanha), festa para a alma, que o que mais quer é o deslumbramento, a aventura, o romance para além da banalidade mortal, das contingências estúpidas. Mas que está, ai de nós! fadada a seguir miragem após miragem até ser acordada de seu sonho.
Não há o que eu não admire em Um corpo que cai. A sua abertura é já o começo do abismo, com toda aquela “op art” audaciosa para os anos 50. A vertigem, o rosto, a boca, o nariz, o olho sorvedor de uma mulher em cuja pupila de círculos concêntricos um corpo (uma alma) cairá. E a música de Herrmann, discípulo de Wagner e Bartók, é, para mim, a mais bela trilha sonora já composta. Não se pode imaginar música mais adequada, sensitiva, melancólica, inquietante, elegíaca, capaz de nos lançar para poços sem fundo de emoção com seu apelo de extraterrena beleza, de irremediável e sobrenatural fatalidade romântica.
Esse é provavelmente o mais romântico (no melhor sentido) de todos os filmes. O único onde o Amor se mostra em sua nudez de delírio, impossibilidade, intangibilidade, sofrimento e loucura. Tudo está preso a uma única idéia – a de encantamento, hipnose, mergulho nos abismos últimos da paixão (lá onde o Desejo toca a Alucinação).
Confesso meu fraco por filmes de amor impossível, a ponto de ter entre meus favoritos um melodrama como A ponte de Waterloo e de não resistir à choradeira de Suplício de uma saudade ou Tarde demais para esquecer.
Afinal, são os amores não realizados os que mais nobremente encarnam a idéia do Amor. Uma história de amor bem sucedida acabará onde? No maridão fumando seu cachimbo com o jornal em frente à tevê enquanto a mulherzinha troca as fraldas do bebê aborrecido. Nesse ponto pode-se entender a sedução do erro, do adultério, da perversidade, da homossexualidade: a mediocridade tem que ser evitada. Mas o impulso que empurra o homem para a fuga à mediocridade é o impulso que o empurra para o Inferno. “... à procura de luz”, como acrescentaria Lupiscínio Rodrigues (“Esses moços”), e algum crítico já chamou Um corpo que cai de A tragédia de Lúcifer.
Não se pode negar que um filme assim suscita reflexões em torno de problemas metafísicos, religiosos. Começa com uma barra de ferro situada entre o céu e a terra e a ela se agarra freneticamente um homem em fuga; há a perseguição da polícia a um bandido nos arranha-céus de San Francisco e aí o detetive, por acrofobia, deixa morrer um companheiro que procurava salvá-lo. De imediato entra-se no universo católico da Culpa. O filme será uma operação de redenção, mas redenção irônica – conquista-se a compreensão perdendo toda e qualquer construção do Desejo.
Scott é um detetive maduro, mas a sua acrofobia o vulnerabiliza, mostra a sua imaturidade, sua incapacidade de lidar com a realidade (alturas). Um crítico escreveu que essa acrofobia estaria relacionada à impotência sexual. Interpretações para essa deficiência simbólica não faltam. O certo é que ninguém melhor que James Stewart para encarnar esse personagem: ele é um homem claramente emotivo, crédulo, com um instinto protetor, um ar bom e confiável; é, em suma, um homem humano, crível, sem aquela aura do galã blindado e insensível que resolve tudo agindo.

“I look up, I look down”
O detetive é amado há muito tempo por uma certa Midge (Bárbara Bel Geddes) que é também a boa moça típica – prestativa, protetora, um pouco irônica, porque não consegue quebrar o celibato convicto que ele ostenta. Bonitinha, de óculos, ela é um pouco disponível e terra-a-terra demais. É curioso que tanto em Janela indiscreta quanto em Um corpo que cai Stewart encarne o solteirão resistente às mulheres, sempre com as idéias em outra parte que não aquela, muito real, que lhe é oferecida (e no primeiro, espantosamente, é a Grace Kelly que ele resiste). Esse homem afável e pacato tem compulsões pouco convencionais e Hitchcock devia deliciar-se com o contraste.
Midge tenta ajudá-lo a superar a sua acrofobia numa cena que é um primor de metáfora: ele tem a teoria de que poderá resolver o problema gradualmente – primeiro, subir num banquinho, depois numa cadeira mais alta etc. Ela lhe improvisa tais cadeiras, ele vai subindo em treino – “I look up, I look down” - mas, a uma certa altura, a vertigem do início do filme o possui e ele cai nos braços dela. Em outro, a queda poderia ficar até um pouco “desmunhecada”. Mas com Stewart é de uma estranha fragilidade masculina que não desviriliza – ao contrário: comove. Vertigo é o filme de um diretor sensível e de bom gosto. Referir-se ao sexo de maneira indireta e delicada é ainda a melhor maneira de captar toda a sua importância, o seu significado.

Os círculos concêntricos
Incumbido de seguir Madeleine Elster, Scott seguirá ponto por ponto a isca lançada por seu marido, Galvin Elster: ela visitará o túmulo de Carlotta Valdez (a bisavó suicida), verá seu retrato num museu (ocasião em que ele constata que a viva usa o mesmo coque da morta, com sua vertiginosa espiral), comprará numa floricultura um buquê idêntico ao que está nas mãos da mulher do quadro, seguida a uma distância prudente. Madeleine também se hospeda num hotel que foi a casa da falecida, que morreu louca, perguntando pelas ruas “Onde está a minha filha?”.
Essa perseguição lenta, circular, é como um mergulho na feitiçaria dos círculos concêntricos da abertura. É poderosamente erótica – porque, menos que perseguição, sentimos que se trata de voyeurismo, desde o primeiro momento, quando fomos apresentados a uma mulher espetacular e ímpar - mas esbarra na Morte e em símbolos religiosos (o cemitério onde jaz Carlota fica atrás de uma igreja). Scott nunca toca na mulher, que está lá, impalpável, linda e exposta a sabe Deus quais fantasmas, agindo na mais perfeita inocência aparente em sua rotina de suave e triste insanidade. Só fará isso quando a salvar de afogamento voluntário na baía de San Francisco, sob a Golden Gate.
A cena da tentativa de suicídio é de grande beleza: ela despetala o buquê idêntico ao do quadro (em primeiro plano) nas águas e a seguir, como que para também desfazer-se, despetalar-se, mergulha. Ele a tira da água para colocá-la em seus domínios, no quarto de apartamento de solteirão, e a ouvimos sonhar, dizer “Where is my child?”. Ficamos então sabendo que ela não sabe o que faz, que está ausente em momentos como o da Golden Gate; a confissão acentua o senso de proteção de Scott, lisonjeia-lhe a masculinidade e o desejo.
Desejo correspondido. Ela também está encantada por seu protetor. E começa a descrever-lhe o desespero em que vive, com as imagens de possessão que a assediam. Pede para que ele a ajude. Há um passeio num bosque de sequóias no qual o filme parece irradiar uma melancolia infinita. É quando o romantismo desse projeto parece mais agudo – sofremos porque somos criaturas, porque somos frágeis, porque vamos morrer, porque estamos submetidos a um destino de precariedade. A música de Herrmann instala-se aí como elegia, nos tons mais desoladores. Afinal, as sequóias duram mais que as pessoas.
Sabemos como isso acabará: ela o arrasta para a igreja de San Juan Batista para localizar algum nexo na busca de sua identidade despedaçada pela possessão. Mas ela sobe para a torre onde, devido à acrofobia, Scott não pode chegar, e atira-se de lá. Segue-se um estado de quase catatonia no detetive : ele olha “para cima e para baixo” enquanto é julgado inocente pela morte de Madeleine, tendo o júri levado em conta a sua acrofobia.. Elster o consola: “Sabemos quem matou Madeleine”. Diz que irá para a Europa tentar recomeçar a sua vida; é indulgente com Scott, mas este já está em outro mundo.

Os dilemas se desdobram
O detetive vai para uma clínica psiquiátrica. Midge está por perto, mas ele mal a vê. Curiosamente, é submetido à musicoterapia, ao mesmo Mozart que ele não queria ouvir no toca-discos no apartamento da moça, no início. Mozart nada resolve, nada pode tirá-lo dessa depressão. Midge desiste. Ela bem que havia tentado, e pateticamente até fizera uma paródia do retrato de Carlotta Valdez pondo seu rosto no lugar do da morta. Mas, como, disponível, prosaica, poderia competir com uma mulher que sugeria o Além?
Os pesadelos de Scott, desenhados como arte psicodélica precoce (só nos anos 60 aquilo entraria decididamente em moda), são efeitos especiais que farão rir os adeptos de Lucas, Spielberg e Peter Jackson das gerações recentes. Mas, eficientes e coerentes com a trama, sugerem muito. Com a música de Herrmann agora evocando a Espanha, vemos a Carlotta Valdez do retrato ao lado de Galvin Elster na torre da igreja de San Juan Batista e vemos, finalmente, um túmulo aberto para o qual Scott se dirige e, ao olhar para dentro, gritará, acordando.
Saindo da clínica, Scott vê Madeleines por toda parte. Repisa o percurso da perseguição, vai aos lugares que ela freqüentava. Refaz os círculos que percorrera, apenas para constatar que a nada mais levam. Finalmente, quando parece já resignado a um desânimo eterno, encontra na rua uma versão morena de Madeleine.
Diz chamar-se Judy Barton e o convence até certo ponto. Mas é a própria. Não havia Madeleine. Judy Barton era a amante de Elster. Os amantes arquitetaram o plano contando com a acrofobia de Scott: matariam a verdadeira Madeleine (que o detetive nunca viu, tampouco o espectador; era apenas um nome) e oficialmente a coisa passaria por suicídio, suicídio que seria corroborado pelo testemunho de Scott.
Diabólico, sem dúvida. Mas talvez um pouco cerebral demais. Inverossímil que alguém planejasse um crime assim tão refinado e contando com o favor do acaso em tantas variantes imprevisíveis. Mas Hitchcock, ele próprio o disse, acha que a verossimilhança é coisa sempre reivindicada por indivíduos sem imaginação. Perfeito. Tem-se que aceitar Um corpo que cai como alguma coisa bem além da mera intriga policial. É um tratado sobre a aparência e seus avessos, sobre a sedução e seus meandros de Idolatria e Culpa.
A força dessa história e desse drama é tal que passamos por cima de muita coisa – temos que ignorar, por exemplo, que a maquiagem que a produção arranjou para a Kim Novak morena é exagerada, ridícula, quase caricata.
Scott quer a ressurreição de Madeleine. Judy, que é a cópia, na verdade a própria, na verdade ninguém, compreende que esse homem (por quem, coisa que escapou aos planos com Elster, ela se apaixonou) quer refazer a morta detalhe por detalhe. Por amor, estóica, medrosa, aceita-lhe as exigências: o tailleur, o penteado, a cor do cabelo de Madeleine.
Há uma cena inesquecível: quando ela concorda em ir providenciar um último detalhe – o coque – e Scott a aguarda. Ouve-se o abrir de uma porta como se ouvisse o abrir de um caixão de defunto. Ela retorna do mundo dos mortos! Nada mais falso e mais comovente que essa ressurreição – o fetichismo e a necrofilia do personagem aí parecem claros, mas tratados com suprema poesia. Ele não tardará a descobrir que foi enganado. Levará Judy/Madeleine de volta à torre, vencerá a acrofobia, mas dessa vez a perderá de verdade. Para sempre. A chegada de uma freira assusta Judy, que despenca. O filme termina com os sinos sendo tangidos pela freira e com um “Deus tenha piedade...”
Convém não esquecer que, no labirinto de invencionices da falsa Madeleine, ela havia dito que uma certa “Irmã Teresa a repreendia”. Judy engendrou uma fantasia de que se tornou vítima. E onde fica o Real nisso tudo?
Acorrentada a uma imagem
Enfatiza-se muito o drama do detetive, mas pelo lado dessa mulher ele não foi menor. Uma moça simples, romântica, que chega do interior e, movida por ambição, aceita entrar no plano de um homem rico que precisa matar a mulher.
Quem é Judy Barton? Quando Stewart a encontra na rua e a segue até seu apartamento, primeiro agirá como uma moça direita que, naturalmente, tem que repelir um desconhecido que teve a audácia de bater à sua porta. Mas, deixa-o entrar, porque percebe seus modos de homem respeitável e entende seu sofrimento. Mas, mostra-lhe a sua identidade – é do interior, do Kansas, e há até uma foto de família numa cômoda, para atestar suas origens. Trabalha numa loja próxima dali, a Magnin´s. Estamos diante de sua verdade – não há dúvida que ela está satisfeita por revelá-la ao homem cuja paixão despertou. Mas, a seguir, compreenderá que está acorrentada a uma imagem num grau muito além do planejado – esse homem não está interessado nela, mas na outra, na Grande Outra que foi perdida. Entendemos o patético disso, porque o que ela deseja é perfeitamente legítimo, mas foi arruinado pela impostura desde o momento em que submeteu-se à trama de Elster. Para que Scott a ame, ela terá que ser sempre o que não é. Sendo o que não é, ela revelará quem de fato é: cúmplice de uma história sórdida. O meio-termo que aceita é o grande suspense da história – e é um dos mais estrangulados e neuróticos casos de amor já projetados na tela, porque esses amantes, se souberem o que de fato os une, terão seu amor inteiramente devastado – ele só poderia subsistir nas condições mais rarefeitas e inquestionadas de ido latria.
latria.
Judy Barton é, na verdade, uma garota de programa. Nada disso precisa ficar muito claro no filme, e há um puritanismo evidente em Hitchcock, que, além de tudo, fez seu trabalho na linha do “film noir”, que é tradicionalmente misógina – nela, as mulheres lindas, desejadas por detetives ou heróis honestos, são sempre ardilosas, jamais confiáveis, e podem, pela sedução, fazer com que o herói mergulhe no inferno; é, aliás, com a finalidade de tirá-los do “bom caminho” que comparecem na tela (lembremos, só como exemplo, a consumada tarântula vivida por Barbara Stanwick em “Pacto de sangue”, obra-prima de Billy Wilder).
Mas, Judy Barton parece ter dimensões mais humanas que o filme apenas roça. Ela faz a jovem que sai do interior em busca do sucesso numa metrópole e, com certeza, na profissão modesta de uma vendedora de loja, não o encontra. Tem, no entanto, a beleza a seu favor. E, possivelmente, é fascinada pela idéia de ser outra, de perder-se numa imagem ideal (fascínio que deve decorrer da própria idéia de ascensão profissional que a move). Portanto, presta-se a um papel arriscado, em que sua beleza – só ela, como uma casca que poderá usar e descartar a bel-prazer – terá importância fundamental. Vende-se a uma imagem. Pode-se mesmo pensar que Elster, cuja intenção principal é fazer de Scott testemunha favorável a seu crime, tem um fundo homossexual: a idéia de dispor daquela mulher, de ter aquele corpo e aquele rosto para atrair Scott o fascinaria em mais de um sentido. Em todo caso, Judy é o tipo de carreirista que tem sua dose de romantismo – e por aí é que se vulnerabiliza, e é por aí que está a sua grandeza, a sua humana contradição.
“Um corpo que cai” teve seus problemas de produção. Um deles – que é notável por remeter, metaforicamente, à própria situação do filme – foi que o papel dessa mulher dupla estava destinado à atriz Vera Miles. Tudo fora planejado pelo meticuloso Hitchcock, maquilagem, vestidos, mas Vera, casada com um ator horrível, Gordon Scott (um dos piores Tarzans que o cinema teve), engravidou. O diretor ficou arrasado com isso, e relutou muito em dar o papel a Kim Novak. Brigou com ela, assustando-a com seu despotismo, dizendo que ela não poderia usar roupa alguma além daquelas que já pré-determinara. Kim se submeteu, e fez o papel de sua vida.
No entanto, Hitchcock nunca a achou muito adequada, reclamava que ela não usava “soutien”. Sempre preferiu, para suas estrelas, uma certa aura de recato sexual. Kim era sensual, apetitosa demais, na linha de Marilyn Monroe, a deusa dos anos 50. Isso deu ao personagem de Madeleine/Judy uma força inesperada, contra todos os preconceitos do diretor. E é preciso registrar que Kim sempre foi subestimada como atriz. Porque mesmo nesse filme, onde esteve sob uma batuta restritiva, humilhada por ser atriz-substituta, ela está magnífica, e consegue fazer-nos pensar numa outra mulher por trás daquela loira imaterial, gélida e “hitchcockiana” que foi obrigada a fazer.
Judy Barton transcende a fêmea-sedutora-fatal típica do “film noir”. Ela aceita fazer a isca, mas planta as sementes de sua destruição, porque o teatro que aceitou representar tem mais de si do que imagina, tanto que uma paixão real surge do emaranhado de irrealidades. A sedutora, apaixonando-se pelo seduzido, é obrigada, pelo próprio amor que suscitou, a reconstituir uma fantasia que vai levá-lo a conhecer a verdade. De um amor alimentado por tantos artifícios, pode-se dizer que só é possível libertar-se pela morte do sonho ou pela morte, pura e simplesmente.
Para a mulher, acorrentada a uma imagem que o homem dela fez, resta pouca alternativa entre fazer a demoníaca ou a santa. Como Judy é, positivamente, um pouco disto e daquilo, é tragicamente punida. Ela não consegue impor a sua identidade sobre um homem que está impregnado de uma obsessão que precisa ser desfeita, ainda que isso custe a imolação da mulher que ele amou – ou acreditou amar. Madeleine/Judy são a mesmíssima mulher-objeto, o mesmo objeto intercambiável na disputa, no duelo entre dois homens. São veneradas porque estão proibidas de terem qualquer espécie de existência real, concreta. Projeções, as correntes da misoginia as prendem para todo o sempre.
Quanto a Scott, seu óbvio alter-ego, Hitch, seguindo a sua linha de pessimismo católico, parece nos dizer que o amor é pura fantasmagoria, que o seu processo idólatra é o mais precário dos empreendimentos da Criatura. Amar a Criatura, querer mudar os desígnios do Criador, querer ser o Criador, intervir no Destino com desesperadas fabricações humanas, oriundas do Desejo, é tragédia na certa. O homem, privado de Deus, joga seu amor, sua esperança, seu sonho de onipotência em criações só suas, que não podem nem de longe substituir, em verdade e duração, as de seu arqui-rival contra cujo poder tudo é inútil. Ele tem que cair, cair quantas vezes forem necessárias, até dar-se conta de que entre a o Céu e a Terra há uma distância insuperável.
A Queda é essa condenação ao mundo incerto, ambíguo, senão diabólico, das aparências, onde a Verdade só é encontrada ao preço da desilusão.
Chico Lopes









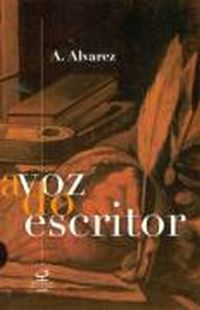







 latria.
latria.